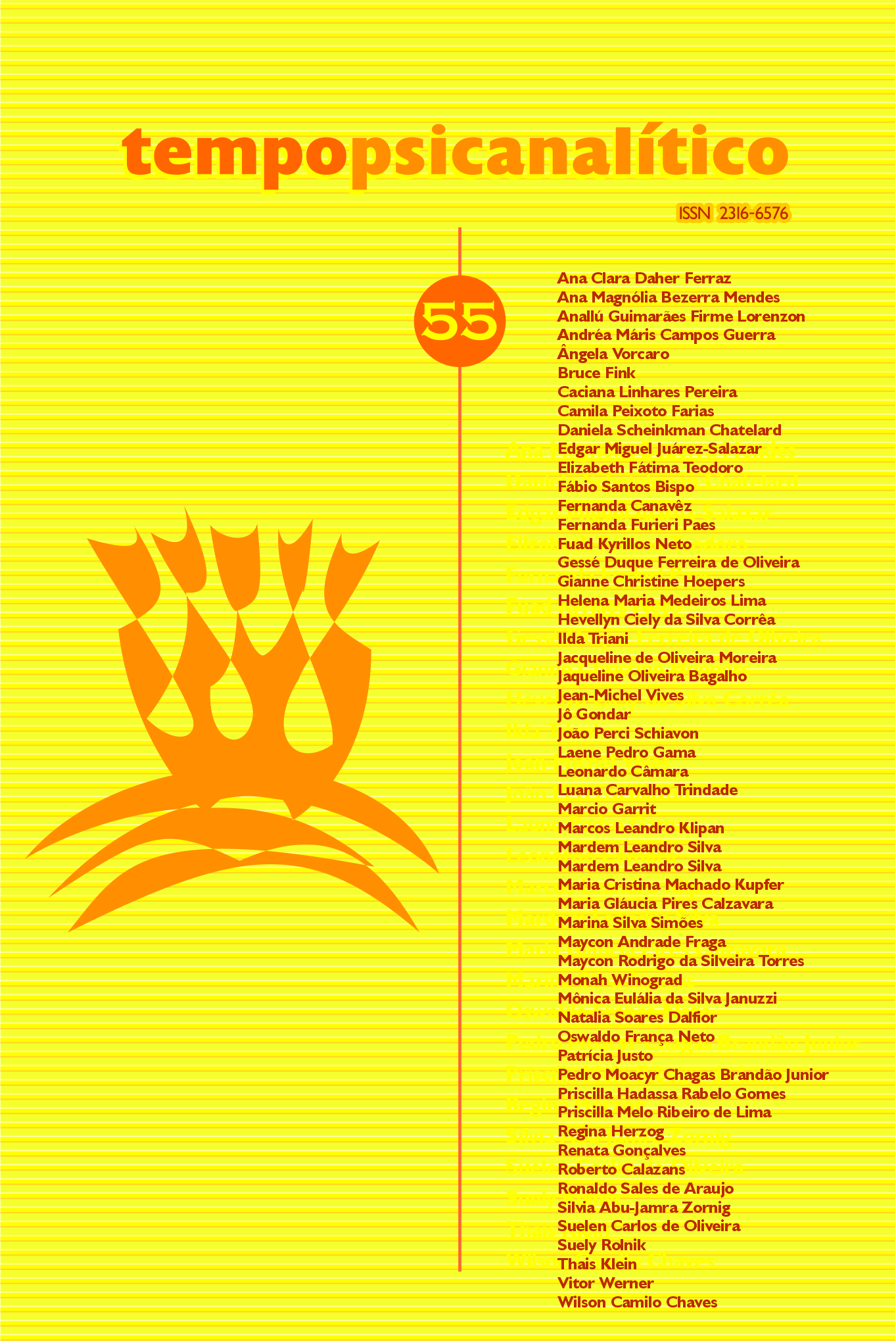Psicanálise e Educação: o que pode o analista na escola em tempos de desempenho?
Palavras-chave:
Psicanálise, Educação, Desempenho, DisciplinaResumo
Este artigo investiga o que pode o analista na instituição escolar frente ao discurso exigente de disciplina e desempenho dos alunos. Utilizamos como métodos a pesquisa bibliográfica, as pesquisas em três sites de sistemas de ensino e a recordação dos fragmentos da escuta pontual no cotidiano escolar. Fizemos um breve histórico da inserção da escola no Brasil e entendemos que os significantes disciplina e desempenho, apesar da marcante inserção do método construtivista nas escolas, possuem raízes fortificadas pelo ensino tradicional. Ao percorrer os sites, foi possível identificar o maciço investimento de recursos no material didático como promotor do sucesso do aluno. Desse modo, as apostilas são apresentadas aos alunos como o recurso primordial para o sucesso, e o professor, como ferramenta de mediação, necessário para o ingresso do aluno na universidade. Fundamentados na Psicanálise, compreendemos que a eficácia do método de ensino não depende exclusivamente do uso correto das apostilas, mas sim da subjetividade do aluno. Na tentativa de responder às demandas escolares pautadas pela ideologia social atual, que destaca o desempenho como um novo mandato do sucesso profissional, o aluno entra em conflito com a sua construção subjetiva. Sendo assim, o psicanalista irá lidar com as marcas advindas desse imperativo ideológico escolar e social de desempenho para o sujeito. Concluiu-se que, além dos alunos, o professor, também, é disciplinado pelo método de ensino e, dessa forma, reduzido à condição de reprodutor dos conteúdos presentes nas apostilas. O psicanalista tem uma função importante na desalienação das relações que permeiam o dia a dia escolar e que interferem tanto no funcionamento institucional quanto no mau desempenho do aluno e, também, no sofrimento psíquico de alunos e educadores.
Referências
Alberti, S. (2009). O discurso universitário. Rio de Janeiro. Recuperado em 20 de janeiro, 2020, de: http://www.uva.br/trivium/edicao1/artigos/11-o-discurso-universitario.pdf
Althusser, L. (2010). Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. In S. Zizek (org.). Um mapa da ideologia (4a. reimp., pp. 105-142). Rio de Janeiro: Contraponto. (Obra original publicada em 1996).
Beividas, W. (1999). Pesquisa e transferência em psicanálise: lugar sem excessos. Psicologia: Reflexão e Crítica. Recuperado em 27 de março, 2020, de http://www.scielo.br/scielo
Braunstein, N. (2010, janeiro/julho). O discurso capitalista: quinto discurso? O discurso dos mercados (PST): sexto discurso? Revista A Peste, 2(1), 143-165.
Brousse, M. (2007). Três pontos de ancoragem. In Matet, J.D. et al. Pertinências da psicanálise aplicada (pp. 22-26). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Carvalho, M. (2005). Pedagogia da Escola Nova e usos do impresso: itinerário de uma investigação. Revista do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, 30(2), 87-104.
Castro, E. (2009). Vocabulário de Foucault. Belo Horizonte: Editora Autêntica.
Chauí, M. (2016, janeiro/março). Ideologia e Educação. Educação e Pesquisa, 42(1), 245-257.
Diniz, M. (2018). O(a) pesquisador(a), o método clínico e sua utilização na pesquisa. In T. Ferreira, & A. Vorcaro (orgs.). Pesquisa e psicanálise: do campo à escrita (pp. 111-128). Belo Horizonte: Editora Autêntica.
Dunker, C. (2013). Sobre a relação entre teoria e clínica em Psicanálise. In C. Dunker. A psicose na criança: tempo, linguagem e sujeito (pp. 63-73). São Paulo: Editora Zagodoni.
Eagleton, T. (1997). Ideologia: uma introdução (2a. reimp., L. C. Borges, & S. Vieira, Trad.). São Paulo: UNESP; Boitempo.
Foucault, M. (1976). Histórias da sexualidade humana: A vontade de saber. (M. T. C. Albuquerque, & J. A G. Albuquerque, Trad.). Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1987). Vigiar e punir. História da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes.
Foucault, M. (1995). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1999). A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola.
Freud, S. (2006). Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Totem e Tabu e outros trabalhos (1908-1909) (Vol. 13, pp. 243-250). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1914).
Freud, S. (2006). Conferência XXVII: Transferência. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III) (Vol. 16, pp. 433-448). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1915).
Freud, S. (2006). Conferência XXXIV: explicações, aplicações e orientações. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. “Novas conferências introdutórias sobre Psicanálise e outros trabalhos” (Vol. 22, pp. 135-154). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1932).
Freud, S. (1996). Construções em Análise. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Moisés e o Monoteísmo, Esboço de Psicanálise e outros trabalhos (Vol. 23, pp. 275-287). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1937).
Freud, S. (2006). O mal-estar na civilização. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. O Futuro de uma ilusão, o Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos (Vol. 21, pp. 67-153). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1930).
Freud, S. (2006). Sobre a Psicanálise. In S. Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. O caso Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos (Vol. 12, pp. 225-229). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1913).
Fusinato, C. V., & Kraemer, C. (2013). A invenção da escola e escolarização no Brasil. EDUCERE: XI Congresso Nacional de Educação. Curitiba, PR: PUC. Recuperado em 19 de julho, 2019, de https://educere.bruc.com.br/
Lacan, J. (2003). Ato de fundação. In J. Lacan. Outros Escritos (pp. 235-247). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Obra original publicada em 1964).
Lacan, J. (1992). O Seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar. (Obra original publicada em 1969-1970).
Lajonquière, L. de (1997). Dos “erros” e em especial daquele de renunciar à educação. Notas sobre psicanálise e educação. Estilos da Clínica, (2), 27-43.
Leão, D. (1999). Paradigmas contemporâneos de educação: escola tradicional e escola construtivista. Cadernos de Pesquisa, (107), 187-206.
Lowy, M. (2008). Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista (18a. ed.). São Paulo: Cortez.
Mannheim, K. (1968). Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Marx, K., & Engels, F. (2007). A ideologia alemã (3a. ed.). São Paulo: Martins Fontes.
Miller, J. (2017). Psicanálise pura, psicanálise aplicada & psicoterapia. Opção Lacaniana (online), (22), 1-47.
Olinda, S. (2003, julho/dezembro). A educação no Brasil no período colonial: um olhar sobre as origens para compreender o presente. Revista Sitientibus, (29), 153-162.
Oliveira, B. (2000). Instituição e Psicanálise: da impotência à impossibilidade. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP.
Piaget, J. (2002). Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: José Olympio Editora.
Quinet, A. (2009). Psicose e laço social: esquizofrenia, paranoia e melancolia. Rio de Janeiro: Zahar.
Silva, M. (2018, janeiro/junho). O discurso universitário e a clínica contemporânea. Caderno de Psicanálise (CPRJ), 40(38), 161-182.
Uria, F., & Varela, J. (1992). A maquinaria escolar. Revista Teoria & Educação, 6, 1-17.